sábado, março 31, 2007
A imprensa que temos
Neste post eu encontro mais uma boa razão, ainda que só aparentemente transitória, para que se não comprem jornais portugueses ao fim de semana.
Sábado pela hora de almoço
Ir almoçar com um filho ao McDonalds ao sábado pode ser particularmente instrutivo. Desde assistir a um programa apresentado por Merche Romero (mais gorda?) na RTP1, e no qual o serviço público de TV faz publicidade descarada a uma clínica de que é proprietário o espanhol mais famoso a residir em Portugal, até assistir a uma aparentemente absurda inflação de pais e mães tratando os respectivos rebentos por um você mil vezes mais artificial do que a comida que nos põem à frente. Diga-se, em abono da verdade, que sabe melhor o hambúrguer com batatas fritas e o refrigerante do que assistir à desvalorização acelerada de uma marca que se pretende exclusiva e que não é mais do que o tratamento da descendência na terceira pessoa do singular.
quinta-feira, março 29, 2007
As Vidas dos Outros
 As Vidas dos Outros é um filme histórico sobre a decadência e queda da RDA, um filme político sobre o fim do socialismo real, mas sobretudo um filme de personagens. É no interior delas que tudo se decide, mesmo nos mais rigorosos constrangimentos. Filme ético, antes de mais, portanto. Trata da queda da bela e desejada Christa-Maria Sieland e da humanização do cinzento capitão da Stasi, o capitão Gerd Wiesler.
As Vidas dos Outros é um filme histórico sobre a decadência e queda da RDA, um filme político sobre o fim do socialismo real, mas sobretudo um filme de personagens. É no interior delas que tudo se decide, mesmo nos mais rigorosos constrangimentos. Filme ético, antes de mais, portanto. Trata da queda da bela e desejada Christa-Maria Sieland e da humanização do cinzento capitão da Stasi, o capitão Gerd Wiesler.O sinistro capitão inicia a vigilância a um dramaturgo, Georg Dreyman, que só um polícia zeloso pode considerar suspeito. A primeira motivação sofre uma reviravolta quando o ministro Bruno Hempf, apaixonado por Christa, a mulher do dramaturgo, pressiona a Stasi para encontrar um pretexto que lhe permita livrar-se do rival.
Christa potencia o que de melhor e pior possuem as personagens apaixonadas por ela: o ministro abusa do poder; o escritor inspira-se; o polícia humaniza-se. Interpretado pelo extraordinário Ulrich Mühe, o longo caminho percorrido até o seu rosto sombrio ser iluminado por um sorriso podia ter como mote os versos de Camões: «Transforma-se o amador na coisa amada, à força de muito imaginar». Neste caso, também à força de muito escutar, como solitário e secreto espectador, a vida do dramaturgo e da actriz. Ironicamente, o escritor é afinal mesmo um «engenheiro das almas», não por causa das posições que toma em relação a ideais abstractos, mas pelas suas palavras e acções perante situações e pessoas concretas.
Salazar e os outros
Talvez de pudessem fazer grandes análises sobre os Grandes Portugueses. Eu fico por duas ou três pequenas (e complementares do que já aqui escrevi várias vezes).
O voto em Salazar foi, sobretudo, um voto de protesto? Não tenho dúvida. Proclama até Rosado Fernandes, no seu estilo de tribuno da plebe, que é um protesto justíssimo! O que ele é, isso sim, é um protesto completamente inconsequente e, portanto, politicamente nulo. Afinal, do que é se queixam os admiradores de Salazar? Das consequências das reformas de um governo que está determinado a fazer descer o deficit das constas públicas para 3%? Mas não são eles grandes admiradores de um grande ditador das finanças que fez do equilíbrio das contas públicas o seu grande dogma e carisma? Grande contradição, não lhes parece?
Já agora, e por falar de inconsequências, talvez algumas elites devessem cuidar melhor da sua própria cultura histórica antes de denunciarem a sua ausência no povo. Segue-se uma amostra de calinadas ditas no dito programa (que não garanto que seja representativa). Escolas laicas com Pombal?! (A religião do Estado, e portanto a de todas as escolas, continuou a ser a Católica.) Salazar manteve o povo analfabeto?!(Entre 1930 e 1960 o analfabetismo desceu de 62% para 30%). Aristides de Sousa Mendes, um homem simples?! (Um diplomata aristocrata, irmão do primeiro ministro dos negócios estrangeiros nomeado por Salazar, e que ganhava bem mais, mesmo com o ordenado arbitrariamente cortado por este último, do que muitos portugueses). Cunhal um homem sempre ao lado do povo?! (Viu-se, quando o povo votou livremente.)
O voto em Salazar foi, sobretudo, um voto de protesto? Não tenho dúvida. Proclama até Rosado Fernandes, no seu estilo de tribuno da plebe, que é um protesto justíssimo! O que ele é, isso sim, é um protesto completamente inconsequente e, portanto, politicamente nulo. Afinal, do que é se queixam os admiradores de Salazar? Das consequências das reformas de um governo que está determinado a fazer descer o deficit das constas públicas para 3%? Mas não são eles grandes admiradores de um grande ditador das finanças que fez do equilíbrio das contas públicas o seu grande dogma e carisma? Grande contradição, não lhes parece?
Já agora, e por falar de inconsequências, talvez algumas elites devessem cuidar melhor da sua própria cultura histórica antes de denunciarem a sua ausência no povo. Segue-se uma amostra de calinadas ditas no dito programa (que não garanto que seja representativa). Escolas laicas com Pombal?! (A religião do Estado, e portanto a de todas as escolas, continuou a ser a Católica.) Salazar manteve o povo analfabeto?!(Entre 1930 e 1960 o analfabetismo desceu de 62% para 30%). Aristides de Sousa Mendes, um homem simples?! (Um diplomata aristocrata, irmão do primeiro ministro dos negócios estrangeiros nomeado por Salazar, e que ganhava bem mais, mesmo com o ordenado arbitrariamente cortado por este último, do que muitos portugueses). Cunhal um homem sempre ao lado do povo?! (Viu-se, quando o povo votou livremente.)
Parece que o país reclama mais história, melhor história. Mas será mesmo isso que se quer? Será que o país aguenta? Ou será que o que se deseja realmente é mais propaganda, melhor propaganda disfarçada de história? Creio que o alguns realmente defendem é, de facto, o regresso da história como apologética, neste caso do regime e das crenças actualmente dominantes (e evidente boas). Eu até acho que o regime actual é superior ao anterior. Mas uma das razões dessa superioridade está na possibilidade de fazer história científica e divulgação histórica de qualidade, nas escolas ou fora delas. Ou seja, sem maniqueísmos ou fretes políticos e educando o espírito crítico. Isso não impede que se fale do facto da repressão da dissidência política pelo Estado Novo, ou das consequências (de vida ou de morte) para os refugiados desesperados do gesto de Sousa Mendes. Só impede que se atire para o regime anterior com todos os males da pátria, ou que se faça do diplomata uma figura acima de qualquer análise. Os historiadores devem resistir ao regresso à história a preto e branco, apenas com mudança de personagens.
quarta-feira, março 28, 2007
Um Retrato Português
Explicações sobre a «pessoa de bem»
Há quem se tranquilize com o facto de um concurso televisivo não passar disso mesmo e das sondagens realizadas afirmarem que, para a maioria dos portugueses, as figuras históricas mais importantes são D. Afonso Henriques e Camões. Eu considero esta discrepância é intrigante e merecedora de reflexão: será que o público da RTP é mais salazarista do que a população portuguesa em geral? Será que uma organização manipulou, pelo menos em parte, os resultados? Se a segunda hipótese for verdadeira trata-se do maior golpe de propaganda de extrema-direita realizado em democracia. Muita gente pergunta: e depois? Tratou-se de uma luta entre comunistas e fascistas. Ambos procurando obter na televisão compensações pelas derrotas infligidas pela História. Ambos afectivamente ligados a regimes desacreditados. Este raciocínio ignora dois aspectos: em primeiro lugar, pese embora o facto dos regimes comunistas terem praticado e praticarem crimes, os comunistas portugueses encontram-se há mais de trinta anos integrados no sistema democrático. Nada nos autoriza a pensar que os «fascistas», com aspas ou sem aspas, e sobretudo sem rosto, que elegeram Salazar como o maior português de sempre possuem a mesma condescendência pela democracia. Em segundo lugar, a vitória de Salazar foi esmagadora.
A afirmação de Jaime Nogueira Pinto de que Salazar nos deixou um Estado concebido como «pessoa de bem» parece (eu não assisti ao programa, li as declarações no DN) ter sido proferida numa acepção económico-financeira. Discutamos então um pouco a política económica de Salazar. A pesca do bacalhau surge-me como uma metáfora forte desta política. Por que é que a pesca do bacalhau era tão importante? Porque as tentativas de industrialização do Estado Novo coexistiram com uma agricultura arcaica, resistente à modernização, que colocava sérios problemas ao abastecimento alimentar das cidades. E por que é que a faina no bacalhau manteve um carácter «heróico» até o ministro Dias Rosas, no marcelismo, liberalizar o seu comércio? Porque o Estado garantia a colocação de todo o produto da pesca no mercado nacional e a pressão para o investimento modernizador na frota pesqueira não existia. Na década de 60, quando as frota bacalhoeiras da Europa e da América do Norte usavam redes de arrasto, havia barcos portugueses que navegavam até ao mar gelado da Terra Nova, onde largavam os pescadores em dóris. Ou seja, pequenos botes individuais onde, com temperaturas muitas vezes negativas, um homem pescava bacalhau à linha. De vez em quando um bote voltava-se e não havia nada a fazer. As doenças mais frequentes resultavam do frio, mas também de um dos poucos entretenimentos, a ingestão do álcool (causava cirrose) e de não usarem luvas para salgar o bacalhau (infecções na pele).
A pesca do bacalhau no Estado Novo é uma imagem das perversões do seu sistema económico e das distorções do imaginário de aventuras. É absurdo que num país com figuras históricas que descobriram o caminho marítimo para a Índia e deram «novos mundos ao mundo» seja o mentor de uma caricatura miserabilista da epopeia marítima a ganhar, na televisão, o epíteto do maior português. Face ao resultado, o slogan da campanha não podia ser mais desastroso: «Só há lugar para um.»
Também suponho ter sido esquecido no debate que o Estado português, durante a II Grande Guerra, foi receptador de ouro nazi roubado aos judeus. Se um Estado receptador é «pessoa de bem», então a bitola está enterrada no lodo.
A afirmação de Jaime Nogueira Pinto de que Salazar nos deixou um Estado concebido como «pessoa de bem» parece (eu não assisti ao programa, li as declarações no DN) ter sido proferida numa acepção económico-financeira. Discutamos então um pouco a política económica de Salazar. A pesca do bacalhau surge-me como uma metáfora forte desta política. Por que é que a pesca do bacalhau era tão importante? Porque as tentativas de industrialização do Estado Novo coexistiram com uma agricultura arcaica, resistente à modernização, que colocava sérios problemas ao abastecimento alimentar das cidades. E por que é que a faina no bacalhau manteve um carácter «heróico» até o ministro Dias Rosas, no marcelismo, liberalizar o seu comércio? Porque o Estado garantia a colocação de todo o produto da pesca no mercado nacional e a pressão para o investimento modernizador na frota pesqueira não existia. Na década de 60, quando as frota bacalhoeiras da Europa e da América do Norte usavam redes de arrasto, havia barcos portugueses que navegavam até ao mar gelado da Terra Nova, onde largavam os pescadores em dóris. Ou seja, pequenos botes individuais onde, com temperaturas muitas vezes negativas, um homem pescava bacalhau à linha. De vez em quando um bote voltava-se e não havia nada a fazer. As doenças mais frequentes resultavam do frio, mas também de um dos poucos entretenimentos, a ingestão do álcool (causava cirrose) e de não usarem luvas para salgar o bacalhau (infecções na pele).
A pesca do bacalhau no Estado Novo é uma imagem das perversões do seu sistema económico e das distorções do imaginário de aventuras. É absurdo que num país com figuras históricas que descobriram o caminho marítimo para a Índia e deram «novos mundos ao mundo» seja o mentor de uma caricatura miserabilista da epopeia marítima a ganhar, na televisão, o epíteto do maior português. Face ao resultado, o slogan da campanha não podia ser mais desastroso: «Só há lugar para um.»
Também suponho ter sido esquecido no debate que o Estado português, durante a II Grande Guerra, foi receptador de ouro nazi roubado aos judeus. Se um Estado receptador é «pessoa de bem», então a bitola está enterrada no lodo.
terça-feira, março 27, 2007
Os limites do "neo-salazarismo"
Se bem li, e mesmo descontando a ironia do estilo e da forma, discordo, por várias razões, com a análise que José Medeiros Ferreira faz do “neo-salazarismo” no Diário de Notícias de hoje. Porém, adianto apenas uma. Segundo Medeiros Ferreira, o advento daquele fenómeno dever-se-á, “em parte”, à “actual desorientação política da direita portuguesa”, argumento que desenvolve na segunda metade do texto. Descontando o facto do artigo pretender ser, sobretudo, um elemento mais no debate político actual, e que o seu objectivo passa, em boa medida, por procurar desclassificar, ainda mais, a direita portuguesa que temos, sublinharia, sobretudo, que o mais importante, tanto para perceber o salazarismo, como o putativo neo-salazarismo emergente, reside no facto de ambos não poderem nem deverem ser caracterizados exclusivamente como um fenómeno de direita.
Para se perceber a verdadeira dimensão do salazarismo, como para se perceber o “neo-salazarismo” que se generaliza (?), terá que verificar-se uma “desorientação política” global da esquerda e da direita, um impasse absoluto na gestão, eficácia e legitimidade do regime político vigente. Ou seja, uma situação idêntica àquela que se produziu em boa parte da Europa de entre guerras (assim como no Brasil ou na Argentina) e que tanto desorientou as forças e as instituições políticas tradicionais, levando em muitos casos à sua destruição. Em Portugal, portanto, e se se fizer bom uso do argumento utilizado por Medeiros Ferreira, dever-se-á olhar atentamente para outra “parte” omitida na análise. Isto é, e verificando-se a da “direita”, falta ainda a “desorientação política” da esquerda para que o neo-salazarismo germine, cresça, amadureça e possa ser colhido. Dará Sócrates o seu contributo?
Para se perceber a verdadeira dimensão do salazarismo, como para se perceber o “neo-salazarismo” que se generaliza (?), terá que verificar-se uma “desorientação política” global da esquerda e da direita, um impasse absoluto na gestão, eficácia e legitimidade do regime político vigente. Ou seja, uma situação idêntica àquela que se produziu em boa parte da Europa de entre guerras (assim como no Brasil ou na Argentina) e que tanto desorientou as forças e as instituições políticas tradicionais, levando em muitos casos à sua destruição. Em Portugal, portanto, e se se fizer bom uso do argumento utilizado por Medeiros Ferreira, dever-se-á olhar atentamente para outra “parte” omitida na análise. Isto é, e verificando-se a da “direita”, falta ainda a “desorientação política” da esquerda para que o neo-salazarismo germine, cresça, amadureça e possa ser colhido. Dará Sócrates o seu contributo?
segunda-feira, março 26, 2007
Pessoa de bem?
 Vejo pouco televisão e ainda menos concursos parvos. É por isso que perdi apenas alguns minutos com o primeiro e último programa dos «Grandes Portugueses» para ter uma vaga ideia do que se passava. Escrevi apenas um post sobre assunto que a outros blogueadores deu pano para mangas. Foi pelo DN de hoje que fiquei a saber da vitória de Salazar e que o seu defensor, Jaime Nogueira Pinto, afirmara ter o ditador deixado como legado «as ideias do Estado como pessoa de bem e de que a nação é o mais importante». Às três perguntas de Fernando Martins acrescento portanto uma quarta: o Estado como pessoa de bem, o legado do salazarismo? Repare-se que não se trata de defender Salazar como «homem do seu tempo», como «mal menor» face aos regimes totalitários, como o homem que salvou Portugal da II Grande Guerra, equilibrou as finanças públicas, ou não enriqueceu materialmente com o poder. Todos estes argumentos seriam discutíveis. Jaime Nogueira Pinto usou a televisão pública, paga com os meus impostos, para dizer que um Estado que censurou, torturou e matou adversários políticos foi «pessoa de bem» e deixou um legado válido. A figura de Salazar tem aspectos respeitáveis. Jaime Nogueira Pinto é um tipo asqueroso que só merece o meu desprezo.
Vejo pouco televisão e ainda menos concursos parvos. É por isso que perdi apenas alguns minutos com o primeiro e último programa dos «Grandes Portugueses» para ter uma vaga ideia do que se passava. Escrevi apenas um post sobre assunto que a outros blogueadores deu pano para mangas. Foi pelo DN de hoje que fiquei a saber da vitória de Salazar e que o seu defensor, Jaime Nogueira Pinto, afirmara ter o ditador deixado como legado «as ideias do Estado como pessoa de bem e de que a nação é o mais importante». Às três perguntas de Fernando Martins acrescento portanto uma quarta: o Estado como pessoa de bem, o legado do salazarismo? Repare-se que não se trata de defender Salazar como «homem do seu tempo», como «mal menor» face aos regimes totalitários, como o homem que salvou Portugal da II Grande Guerra, equilibrou as finanças públicas, ou não enriqueceu materialmente com o poder. Todos estes argumentos seriam discutíveis. Jaime Nogueira Pinto usou a televisão pública, paga com os meus impostos, para dizer que um Estado que censurou, torturou e matou adversários políticos foi «pessoa de bem» e deixou um legado válido. A figura de Salazar tem aspectos respeitáveis. Jaime Nogueira Pinto é um tipo asqueroso que só merece o meu desprezo. domingo, março 25, 2007
Grandes Portugueses
Maria Elisa e Daniel Oliveira (o outro) vão, desgraçadamente, apresentando os "grandes portugueses". Uma razão mais para ter a tropa de prevenção. A outra, claro está, será a confirmação da vitória de Oliveira Salazar.
Adenda: Não é que há em estúdio descendentes de alguns dos dez grandes portugueses que disputam a final?
Montevideo, a outra "cidade luz"
Ontem a selecção portuguesa de rugby conseguiu o apuramento, num jogo difícil contra o Uruguai em Montevideo, para a fase final da taça de mundo da modalidade e que se disputará em Paris lá mais para o Verão. Não só é a primeira vez que uma selecção portuguesa lá chega, como é a primeira vez que uma equipa amadora o consegue. Foi um esforço tremendo produto de talento, muito trabalho e enorme perseverança. Para que conste, e desde logo nos "sevens", o rugby português tem sofrido uma enorme transformação, para muito melhor, nos últimos anos. Os jogos em campos pelados já são (quase) história, o número de praticantes vai subindo, a modalidade escapa a escândalos e à instabilidade de vária ordem que têm caracterizado nos últimos anos não só o futebol mas também o andebol ou o basquetebol. Em Paris não vai ser fácil. Os resultados serão modestos. Mas o importante é lá ir e consolidar o trabalho feito. Os portugueses não ligam muito? É pena! Mas não sei se a atenção dos portugueses fará assim muito falta por mais que os jogadores, a equipa técnica e os quadros da Federação Portuguesa de Rugby o mereçam indiscutivelmente.
Adenda: Este texto não foi escrito por causa do pedido da Vallera. Mas naturalmente agradeço-lhe o incentivo.
"Injecções de vitaminas”
Muito interessante e importante, apesar de nada analítica, a peça do jornalística que o Público deu ontem (Sábado) à estampa, associando-se assim ao 45.º aniversário da crise estudantil iniciada em finais de Março de 1962, e que se estendeu por boa parte da primavera daquele ano. Dos testemunhos recolhidos, quase todos eles vivos e apenas pontualmente narcisistas, destaco o excerto do diário de Jorge de Miranda que, e não sei porquê, imagino de calções sentado na relva do Estádio Universitário, e esta frase de Manuel de Lucena: “Não me lembro – mas talvez seja idealismo – de uma tão continuada primavera em que havia tudo: amizades, namoros, amor, tudo.”
Ainda sobre a crise, não resisto em reproduzir aqui excertos de um outro diário, o de Franco Nogueira. Lá estão os acontecimentos tal como eram vistos a partir de S. Bento e por alguns notáveis do regime:
“Lisboa, 4 de Abril – Estudantes em agitação, e toda a questão universitária é debatida em Conselhos de Ministros. Lopes de Almeida [ministro da Educação] hesita, tergiversa, titubeia. À queima-roupa, pergunta-lhe Salazar: «mas o sr. ministro prometeu ou não que seria autorizado o Dia do Estudante?» Lopes de Almeida mete os pés pelas mãos, fica corado até às orelhas e raiz dos seus poucos cabelos, e com esforço murmura com voz enrouquecida: «não». Estava claramente a mentir. Mas Salazar logo tira a conclusão: «Ah! Bem, então o Governo está livre de proibir o Dia do Estudante». E Lopes de Almeida concorda em publicar uma nota oficiosa proibindo o Dia do Estudante.
Lisboa, 5 de Abril – Publicada nota oficiosa. Demite-se Marcello Caetano, reitor da Universidade Clássica de Lisboa. Sensação no país. Atitude de Marcello Caetano é interpretada como de oposição ao governo. Ao que parece Lopes de Almeida havia-lhe dado a entender que o Dia do Estudante seria autorizado. À noite estou com Azeredo Perdigão e Marcello Mathias: ambos acentuam a importância e mesmo a gravidade da crise universitária. Desencadeou-se um claro estado de tensão e nervosismo. Luís Teixeira Pinto e André Gonçalves Pereira telefonam-me a acentuá-lo. Fervem boatos de greves universitárias.
Ainda sobre a crise, não resisto em reproduzir aqui excertos de um outro diário, o de Franco Nogueira. Lá estão os acontecimentos tal como eram vistos a partir de S. Bento e por alguns notáveis do regime:
“Lisboa, 4 de Abril – Estudantes em agitação, e toda a questão universitária é debatida em Conselhos de Ministros. Lopes de Almeida [ministro da Educação] hesita, tergiversa, titubeia. À queima-roupa, pergunta-lhe Salazar: «mas o sr. ministro prometeu ou não que seria autorizado o Dia do Estudante?» Lopes de Almeida mete os pés pelas mãos, fica corado até às orelhas e raiz dos seus poucos cabelos, e com esforço murmura com voz enrouquecida: «não». Estava claramente a mentir. Mas Salazar logo tira a conclusão: «Ah! Bem, então o Governo está livre de proibir o Dia do Estudante». E Lopes de Almeida concorda em publicar uma nota oficiosa proibindo o Dia do Estudante.
Lisboa, 5 de Abril – Publicada nota oficiosa. Demite-se Marcello Caetano, reitor da Universidade Clássica de Lisboa. Sensação no país. Atitude de Marcello Caetano é interpretada como de oposição ao governo. Ao que parece Lopes de Almeida havia-lhe dado a entender que o Dia do Estudante seria autorizado. À noite estou com Azeredo Perdigão e Marcello Mathias: ambos acentuam a importância e mesmo a gravidade da crise universitária. Desencadeou-se um claro estado de tensão e nervosismo. Luís Teixeira Pinto e André Gonçalves Pereira telefonam-me a acentuá-lo. Fervem boatos de greves universitárias.
Lisboa, 17 de Abril – Agitação estudantil em larga escala, demissão de alguns directores de Faculdades, rumores de tumultos sérios para o primeiro de Maio. Em Conselho de Ministros, Salazar diz: «muitos vão precisar de injecções de vitaminas». Analisando a acção que atribui aos comunistas em toda a agitação, comenta: «se nada fizermos, antes de dez anos eles estão sentados a esta mesa.»”
Franco Nogueira, Um Político Confessa-se (Diário: 1960-1968), 3.ª ed., Barcelos, Civilização, 1987, pp. 25-26.
Três perguntas!
A gala dos “Grandes Portugueses”, que a RTP apresentará hoje à noite, continua a alarmar muitos nossos concidadãos de boa vontade, amantes da democracia e da liberdade, além de incondicionais do regime. Escudando-se algumas vezes no absurdo da iniciativa, por não a considerarem séria do ponto de vista histórico e historiográfico, ao mesmo tempo que defendem, por exemplo, que uma escolha como aquela ou não pode fazer-se ou, ao menos, não pode ser concurso e, portanto, entretenimento, na verdade arrepiam-se pelo facto de Oliveira Salazar poder vir a ser o escolhido. Isto depois de, surpreendentemente (?), ter ficado entre os dez finalistas. Ou seja, as consciências políticas e históricas críticas do evento, de modo totalmente inesperado, levaram mais a sério o concurso do que os seus próprios promotores, gente que o usou com o singelo objectivo de conquistar boas audiências e, consequentemente, produzir uma vez mais “serviço público” de altíssima qualidade na televisão do Estado e de todos os Governos. Mas tirando a preocupação manifestada por aqueles que constituem indiscutivelmente a reserva moral da nação, e vêem os “Grandes Portugueses” como um acontecimento político da maior transcendência, sobram naturalmente umas poucas interrogações. Seria melhor que o concurso não se fizesse? Que se fizesse apenas com candidatos da linha justa? Que só pudesse escolher os “Grandes Portugueses” gente “esclarecida”?
“União Europeia”
A União Europeu cumpre agora 50 anos. Tem prazo de validade? Já lhe determinaram a esperança de vida?
P.S.: As mesmas dúvidas também se aplicam à OTAN quem, em 2009, faz 60 anos.
P.S.: As mesmas dúvidas também se aplicam à OTAN quem, em 2009, faz 60 anos.
sexta-feira, março 23, 2007
Assim SISI?
Parece que há quem ache que a falta de um levantamento nacional contra o temível SISI se deve à falta de cultura democrática do país. É o que nos diz o Expresso por via da Bloguítica.
Pode ser. Ou então poder ser que o país ao contrário da enxurrada de editoriais e comentadores contra o SISI, tenha visto em algo que é perfeitamente normal no resto da Europa, algo de perfeitamente normal em Portugal.
Pode ser. Ou então poder ser que os portugueses sejam afinal mais historicamente alfabetizado do que muitas elites parecem crer. Sabem, por exemplo, que Salazar, como bom ditador, cioso do seu poder pessoal discricionário sempre foi alérgico a coordenações. Ele até desgostava do Conselho de Ministros, que raramente reunia! Talvez até saibam que durante o Estado Novo se houve organismo devotadamente alérgico a coordenações foi a PIDE. Mesmo num contexto em que ela parecia evidentemente necessária – como as guerras em Angola, Moçambique, Guiné – a PIDE resistiu a ser coordenada o mais que pôde e geralmente, na prática, com sucesso. Não me consta que a ditadura tenha sido afectada por isso.
Aquilo que é frequente em ditaduras totalitárias - regimes como o de Saddam Hussein ou Hitler - é, aliás, a multiplicação de polícias e serviços de informação sem qualquer mecanismo de coordenação institucional. É bom para um estado autoritário que haja duplicação de tarefas, que haja descoordenação: quanto mais polícias a vigiarem e a chocarem entre si, mais oportunidades de repressão e vigilância pelo poder.
Pergunta o Paulo Gorjão nesse mesmo poste se ainda continuo despreocupado? Ainda. A preocupação com a coordenação nestas questões é típica das velhas democracias, como a britânica. E para a coordenação significar alguma coisa que não seja conversa vã em que nada se decide e tudo fica na mesma, alguém tem de poder dirigir quando surgem divergências. Que tenha de prestar contas disso ao parlamento, seja em pessoa, seja por via do ministro ou do primeiro-ministro, parece-me evidente. Mas é preciso legislação específica para isso? Se calhar é. Mas devia ser um princípio geral. De qualquer forma a existir alguma coisa a mudar é aí e não na coordenação ou na direcção. E pode-se remediar-se sempre por pedido de esclarecimento da oposição parlamentar.
Mas ao contrário do Fernando Martins não estou seguro de que o PS e o governo imponham com facilidade as evidências. Este é um campo em que sacrificar a eficiência das reformas à indignação poderá ser politicamente compensador. Veremos se assim SISI. É capaz de não.
Ironicamente Vasco Pulido Valente teria toda a razão para usar este caso para reforçar a sua tese de que Sócrates não reforma nada de especial, só faz, modestamente, o que o bom-senso dita e o resto da Europa há muito fez. Mas isso, como as críticas de VPV e outros agora mostram, é, em Portugal, frequentementem, algo bem difícil. Como outros reformistas corajosos poderão testemunhar, o bom senso é bem raro em Portugal.
Pode ser. Ou então poder ser que o país ao contrário da enxurrada de editoriais e comentadores contra o SISI, tenha visto em algo que é perfeitamente normal no resto da Europa, algo de perfeitamente normal em Portugal.
Pode ser. Ou então poder ser que os portugueses sejam afinal mais historicamente alfabetizado do que muitas elites parecem crer. Sabem, por exemplo, que Salazar, como bom ditador, cioso do seu poder pessoal discricionário sempre foi alérgico a coordenações. Ele até desgostava do Conselho de Ministros, que raramente reunia! Talvez até saibam que durante o Estado Novo se houve organismo devotadamente alérgico a coordenações foi a PIDE. Mesmo num contexto em que ela parecia evidentemente necessária – como as guerras em Angola, Moçambique, Guiné – a PIDE resistiu a ser coordenada o mais que pôde e geralmente, na prática, com sucesso. Não me consta que a ditadura tenha sido afectada por isso.
Aquilo que é frequente em ditaduras totalitárias - regimes como o de Saddam Hussein ou Hitler - é, aliás, a multiplicação de polícias e serviços de informação sem qualquer mecanismo de coordenação institucional. É bom para um estado autoritário que haja duplicação de tarefas, que haja descoordenação: quanto mais polícias a vigiarem e a chocarem entre si, mais oportunidades de repressão e vigilância pelo poder.
Pergunta o Paulo Gorjão nesse mesmo poste se ainda continuo despreocupado? Ainda. A preocupação com a coordenação nestas questões é típica das velhas democracias, como a britânica. E para a coordenação significar alguma coisa que não seja conversa vã em que nada se decide e tudo fica na mesma, alguém tem de poder dirigir quando surgem divergências. Que tenha de prestar contas disso ao parlamento, seja em pessoa, seja por via do ministro ou do primeiro-ministro, parece-me evidente. Mas é preciso legislação específica para isso? Se calhar é. Mas devia ser um princípio geral. De qualquer forma a existir alguma coisa a mudar é aí e não na coordenação ou na direcção. E pode-se remediar-se sempre por pedido de esclarecimento da oposição parlamentar.
Mas ao contrário do Fernando Martins não estou seguro de que o PS e o governo imponham com facilidade as evidências. Este é um campo em que sacrificar a eficiência das reformas à indignação poderá ser politicamente compensador. Veremos se assim SISI. É capaz de não.
Ironicamente Vasco Pulido Valente teria toda a razão para usar este caso para reforçar a sua tese de que Sócrates não reforma nada de especial, só faz, modestamente, o que o bom-senso dita e o resto da Europa há muito fez. Mas isso, como as críticas de VPV e outros agora mostram, é, em Portugal, frequentementem, algo bem difícil. Como outros reformistas corajosos poderão testemunhar, o bom senso é bem raro em Portugal.
quinta-feira, março 22, 2007
'¡Vamos, é agora!'
Presumo que será por causa das raízes sociais humildes da minha família. Nunca consegui gostar de ver ou de praticar ténis (ao contrário do “ping-pong”). Coisa de ricos… embora às vezes me pareça que o é cada vez menos. Certo é que ao ler esta notícia se me abriu a alma e passei a achar que já gostava… do ténis. E porquê? Porque finalmente algo mudou. O praticante português de ténis com qualidade acima da média, tão aguardado há anos, finalmente deu de vaia. Afinal, o que me fazia detestar o ténis era o facto de, ao longo de décadas, nunca ter aparecido um jogador ou jogadora portuguesa que tivesse um grama de reconhecimento internacional como praticante com qualidade acimada da média. Era o meu patriotismo que definhava e não me deixava reconhecer a beleza da modalidade. Não eram as minhas origens sociais que bloqueavam os meus gostos, as minhas escolhas desportivas.
Num torneio profissional de ténis realizado em Miami, ao que parece coisa de muita categoria, viu-se jogar magistralmente, e ganhar uma partida, uma jovem portuguesa chamada Michelle Larcher de Brito. Quando percebeu que podia dar a volta ao jogo e ganhá-lo, depois de conquistar um empate 6-6, gritou: '¡Vamos, é agora!' Eu, que não vi ou ouvi a partida e apenas li a notícia no El Mundo, emocionei-me. As lágrimas saltaram-me e solucei descontroladamente. Finalmente ganhei forças e alguma frieza para escrever esta pequena nota. Sobre a Michelle e a qualidade do seu jogo, a forma como vai construindo uma carreira, ao mesmo tempo que se treina todos os dias afincada e profissionalmente. Tudo coisas únicas no ténis português. Mas, e sobretudo, a coisa parece séria quando a notícia é do espanhol El Mundo. Jornal que recolhe opiniões de outros e dá as suas sobre as qualidade excepcionais de uma rapariga de 14 anos que joga como se não tivesse idade e não conhecesse limites.
Faço pois votos para que Michelle tenha ao menos o dobro dos êxitos desportivos que lhe auguram e para que não lhe passe nunca pela cabeça regressar a este doce cantinho à beira-mar plantado. Presumindo que nasceu aqui ou já cá esteve.
terça-feira, março 20, 2007
José Sócrates anacrónico
Se calhar ainda ninguém disse, mas a descida do déficit das contas públicas de 2006 para 3,9% do PIB, ao contrário dos 4,6% previstos, equivale, uma vez mais, ao não cumprimento de uma promessa feita pelo primeiro-ministro. Mas mesmo que, por razões óbvias, ninguém ligue a esta promessa incumprida, certo é que os bons resultados conseguidos pressionam o governo para que aja rapidamente no plano fiscal, introduzindo, ao menos no próximo orçamento, uma baixa no IRC e no IVA.
Nesse sentido, o "timing" das propostas de redução dos impostos feitas por Marques Mendes parecem hoje muito mais aceitáveis e lógicas, ao mesmo tempo que indiciam que foram uma clara manobra de antecipação e esvaziamento do impacto político positivo para o Governo e para Sócrates que inevitavelmente causariam as boas novas sobre a redução do déficit. Finalmente, a proposta de redução da carga fiscal feita por Marques Mendes, e que gente do PSD e, sobretudo, do PS e do Governo (mas não Jorge Coelho), hoje condenam, obrigarão, num futuro próximo, a que o Governo e o PS venham a dar o dito por não dito, contribuindo dessa forma, muito contrariados, para a credibilização do PSD e do seu presidente. Tudo porque é óbvio que o Governo, sobretudo com contas públicas mais desafogadas, deseja e quer uma baixa nos impostos que ajude a uma melhoria dos índices do crescimento económico em Portugal e faça com que os portugueses se esqueçam, tanto quanto possível, dos sacrifícios que andam a fazer desde 2001. As boas notícias para o país não são por isso, e como se verá, boas notícias para o Governo e para o PS. Por isso também vale a pena sublinhar que a pose autoritária e ordeira que tem servido como uma luva a Sócrates numa conjuntura muito difícil – pose da qual os portugueses parecem gostar –, corre o risco de se tornar anacrónica numa conjuntura económica e de finanças públicas mais favorável. Se tal acontecer só nos resta saber se esse anacronismo, ou a mudança de Sócrates para uma imagem mais consentânea com a (nova) realidade, será suficiente para evitar que o Governo e o PS percam, como seria desejável, as eleições em 2008.
“O Inimigo do Povo”
Adenda: «“Um Inimigo do Povo”, irá manter-se em cena até ao dia 07 de Abril, sempre às 21h30, de Terça a Sábado no Teatro Garcia de Resende.»
Tariq Ramadan e o Bloco na peugada do Profeta
Veio a Portugal Tariq Ramadan, um dos principais teólogos e pensadores muçulmanos na Europa. Para se perceber o seu impacto é importante saber que ele é neto de Hassan al-Banna, o fundador do principal movimento islamista a nível mundial: a Irmandade Muçulmana. E que se tem destacado por procurar argumentos religiosos para modernizar e democratizar o Islão, para o fazer mais europeu.
Há quem se queixe que não chega, há quem exija críticas e mudanças mais radicais. Mas eu tendo a valorizar a importância e coragem deste esforço a partir de dentro, e a apreciar as dificuldades da emergência de uma democracia islâmica.
Dito isto, não deixa de ser interessante ter sido o Bloco de Esquerda a convidá-lo a vir a Portugal. Tariq Ramadan teve problemas com os EUA de Bush e os neo-conservadores? Teve. Mas também os teve com a França, estado laico, e os laicistas de serviço. Espero que os tenha explicado aos seus anfitriões do Bloco como o fez há uns tempos atrás numa entrevista: o que está errado num laicismo de estado como o francês não é a sua hostilidade ao Islão, é a sua hostilidade às religiões em geral. E, pelo vistos, não são só as velhas religiões que encerram contradições, o novo multiculturalmente correcto também as tem.
Há quem se queixe que não chega, há quem exija críticas e mudanças mais radicais. Mas eu tendo a valorizar a importância e coragem deste esforço a partir de dentro, e a apreciar as dificuldades da emergência de uma democracia islâmica.
Dito isto, não deixa de ser interessante ter sido o Bloco de Esquerda a convidá-lo a vir a Portugal. Tariq Ramadan teve problemas com os EUA de Bush e os neo-conservadores? Teve. Mas também os teve com a França, estado laico, e os laicistas de serviço. Espero que os tenha explicado aos seus anfitriões do Bloco como o fez há uns tempos atrás numa entrevista: o que está errado num laicismo de estado como o francês não é a sua hostilidade ao Islão, é a sua hostilidade às religiões em geral. E, pelo vistos, não são só as velhas religiões que encerram contradições, o novo multiculturalmente correcto também as tem.
sexta-feira, março 16, 2007
Ganhar no Iraque?
Ao fim de quatro anos os EUA nomearam, finalmente, um especialista em contra-insurreição para tomar conta militarmente do Iraque. O General Petraeus parece, à partida, o homem certo para conseguir resultados, embora ainda seja cedo para os apreciar. Ele foi o responsável pela recente e laboriosa revisão da doutrina norte-americana de contra-guerrilha. Tinha sido antes disso um dos poucos oficiais generais norte-americanos a merecer análises favoráveis do seu desempenho durante 2003 como comandante de uma das principais unidades norte-americanas na fase inicial da insurreição no Iraque. Ele teve então a coragem de chamar as coisas pelos nomes, de dizer que se combatia guerrilheiros e não apenas desordeiros, apesar de isso ser impopular em Washington. Ou seja, ou é agora e com ele, ou nunca.
Provavelmente, no entanto, já é demasiado tarde. A ironia é que Petraeus prevê isso num artigo publicado na Military Review em que destilou as lições aprendidas no Iraque. A segunda lição para que ele aponta é precisamente: ‘Age Depressa: um Exército de Libertação rapidamente se transforma num Exército de Ocupação.’
Agir depressa neste tipo de campanhas é, aliás, complicado. Olhando para o passado, o período mínimo para inverter tendências numa guerrilha deste tipo parece ser de pelo menos dois anos. E dizemos inverter tendências, não acabar com ela . Conflitos internos como o do Iraque têm no pós-Segunda Guerra uma duração média de 10 anos. Mas mesmo dois anos parece uma eternidade tendo em conta a impaciência reinante em Washington e as eleições norte-americanas que se aproximam.
A saída estaria na lição número um de acordo com Petraeus neste tipo de guerra: ‘não queiras fazer demasiado pelas tuas próprias mãos’. Ou seja, é melhor ser um local o protagonista principal logo que possível, mesmo que faça as coisas mais lentamente e menos eficientemente. O problema é que aquilo que os protagonistas iraquianos mais parecem dispostas a fazer é envolver-se num combate sem tréguas uns com os outros.
Ao contrário do que muitos dizem, o Iraque mostrou não apenas que as reservas (estratégicas) dos europeus tinham razão de ser, mas também que militaramente a experiência e a doutrina europeia se adequavam melhor aos problemas da segurança internacional actual, ao crucial esforço de pacificação que se segue a qualquer ocupação militar. Por isso, os britânicos foram relativamente bem sucedidos e os norte-americanos falharam até ver. O novo manual de contra-insurreição norte-americano que Petraeus coordenou é o reconhecimento disso mesmo, sendo fortemente inspirado na doutrina britânica. Aliás, não é por acaso que Petraeus cita na primeira lição do seu texto sobre o Iraque precisamente Lawrence da Arábia.
TE Lawrence teve a vantagem, no entanto, de estar a promover um levantamento armado entre os árabes, não a contê-lo. Isso, como ele dizia, era tão difícil como usar uma faca para comer sopa. O Médio Oriente, em particular, tem sido um terreno difícil para a contra-guerrilha. Mesmo os experientes britânicos, em décadas passadas, não foram bem sucedidos a impor a paz a grupos armados diferentes na Palestina ou no Iémen do Sul (embora, provavelmente em parte, porque não aplicaram aí alguns dos seus próprios princípios doutrinais).
Se Petraeus, por falta de tempo e pela degradação da situação não conseguir milagres, deixará apenas aos EUA a alternativa de manter uma força mínima no Iraque para conter qualquer risco de tomada do poder pela al-Qaeda numa determinada zona ou retirar completamente. O que os EUA farão se o Iraque entrar numa espiral de limpeza étnica – que em parte já se desenha – é a grande incógnita. Mas seria bom que fossem preparando alguma coisa, ao invés do que sucedeu em 2003 quando apenas o cenário cor-de-rosa estava previsto. Ainda assim, continua a ser verdade que será difícil, por estranho que pareça, aos EUA perder completamente. É que Washington apoiou a emergência do poder xiita e curdo, e parece difícil de conceber nesta altura, que esses aliados norte-americanos percam completamente o controlo da situação para os insurrectos sunitas. Resta saber se serão aliados leais, mas sobretudo do lado xiita não se vislumbram grandes razões para isso.
Veremos, por fim, que futuro terá no exército norte-americano a doutrina que Patreaus tanto se empenhou em criar. Não é inconcebível, sobretudo se os EUA optarem por sair do Iraque, que seja posta de lado, e culpada (injustamente) pelo insucesso. Afinal, o exército norte-americano rapidamente esqueceu, depois do Vietname, os maçadores guerrilheiros, para se concentrar naquilo que tradicionalmente preferia fazer: guerra a sério, convencional, pesada, com muita tecnologia. Não seria a primeira vez que um exército preferiria morrer com as suas belas armaduras a tirá-las para combater mais eficazmente.
Provavelmente, no entanto, já é demasiado tarde. A ironia é que Petraeus prevê isso num artigo publicado na Military Review em que destilou as lições aprendidas no Iraque. A segunda lição para que ele aponta é precisamente: ‘Age Depressa: um Exército de Libertação rapidamente se transforma num Exército de Ocupação.’
Agir depressa neste tipo de campanhas é, aliás, complicado. Olhando para o passado, o período mínimo para inverter tendências numa guerrilha deste tipo parece ser de pelo menos dois anos. E dizemos inverter tendências, não acabar com ela . Conflitos internos como o do Iraque têm no pós-Segunda Guerra uma duração média de 10 anos. Mas mesmo dois anos parece uma eternidade tendo em conta a impaciência reinante em Washington e as eleições norte-americanas que se aproximam.
A saída estaria na lição número um de acordo com Petraeus neste tipo de guerra: ‘não queiras fazer demasiado pelas tuas próprias mãos’. Ou seja, é melhor ser um local o protagonista principal logo que possível, mesmo que faça as coisas mais lentamente e menos eficientemente. O problema é que aquilo que os protagonistas iraquianos mais parecem dispostas a fazer é envolver-se num combate sem tréguas uns com os outros.
Ao contrário do que muitos dizem, o Iraque mostrou não apenas que as reservas (estratégicas) dos europeus tinham razão de ser, mas também que militaramente a experiência e a doutrina europeia se adequavam melhor aos problemas da segurança internacional actual, ao crucial esforço de pacificação que se segue a qualquer ocupação militar. Por isso, os britânicos foram relativamente bem sucedidos e os norte-americanos falharam até ver. O novo manual de contra-insurreição norte-americano que Petraeus coordenou é o reconhecimento disso mesmo, sendo fortemente inspirado na doutrina britânica. Aliás, não é por acaso que Petraeus cita na primeira lição do seu texto sobre o Iraque precisamente Lawrence da Arábia.
TE Lawrence teve a vantagem, no entanto, de estar a promover um levantamento armado entre os árabes, não a contê-lo. Isso, como ele dizia, era tão difícil como usar uma faca para comer sopa. O Médio Oriente, em particular, tem sido um terreno difícil para a contra-guerrilha. Mesmo os experientes britânicos, em décadas passadas, não foram bem sucedidos a impor a paz a grupos armados diferentes na Palestina ou no Iémen do Sul (embora, provavelmente em parte, porque não aplicaram aí alguns dos seus próprios princípios doutrinais).
Se Petraeus, por falta de tempo e pela degradação da situação não conseguir milagres, deixará apenas aos EUA a alternativa de manter uma força mínima no Iraque para conter qualquer risco de tomada do poder pela al-Qaeda numa determinada zona ou retirar completamente. O que os EUA farão se o Iraque entrar numa espiral de limpeza étnica – que em parte já se desenha – é a grande incógnita. Mas seria bom que fossem preparando alguma coisa, ao invés do que sucedeu em 2003 quando apenas o cenário cor-de-rosa estava previsto. Ainda assim, continua a ser verdade que será difícil, por estranho que pareça, aos EUA perder completamente. É que Washington apoiou a emergência do poder xiita e curdo, e parece difícil de conceber nesta altura, que esses aliados norte-americanos percam completamente o controlo da situação para os insurrectos sunitas. Resta saber se serão aliados leais, mas sobretudo do lado xiita não se vislumbram grandes razões para isso.
Veremos, por fim, que futuro terá no exército norte-americano a doutrina que Patreaus tanto se empenhou em criar. Não é inconcebível, sobretudo se os EUA optarem por sair do Iraque, que seja posta de lado, e culpada (injustamente) pelo insucesso. Afinal, o exército norte-americano rapidamente esqueceu, depois do Vietname, os maçadores guerrilheiros, para se concentrar naquilo que tradicionalmente preferia fazer: guerra a sério, convencional, pesada, com muita tecnologia. Não seria a primeira vez que um exército preferiria morrer com as suas belas armaduras a tirá-las para combater mais eficazmente.
Votação Nuclear
Foi aprovada pela Câmara dos Comuns a decisão de renovar o armamento nuclear britânico. A questão nuclear é de há muito controversa entre os trabalhistas, que tinham tradicionalmente – e tal como sucedia com os sindicatos – uma forte relação com o militante e bem organizado movimento pacifista britânico. Este tema sempre foi, por isso, um teste à autoridade dos primeiros-ministros trabalhistas, à sua capacidade de impor a disciplina partidária face a convicções pessoais e interesses militantes. A derrota de Blair – que só conseguiu passar a lei com o apoio dos Conservadores – confirma e acentua a erosão do seu poder. Ele é, afinal e declaradamente, um primeiro-ministro com os dias contados.
Mas a votação tem implicações mais vastas. A ogiva atómica independente britânica na verdade está dependente da tecnologia norte-americana, dos mísseis vindos dos EUA, para chegar a qualquer lado. Ao ser renovada nestes termos a política nuclear britânica, fica garantido por mais umas décadas que o cordão umbilical que liga Londres a Washington só muito dificilmente poderá ser cortado. Quem deseja uma política de externa e de defesa europeia concertada e independente com a participação de Londres (como eu) terá provavelmente muito que esperar.
quinta-feira, março 15, 2007
A Filha Rebelde
 Estreia hoje, na sala Garrett do teatro D. Maria II, A Filha Rebelde, uma peça de teatro adaptada de um livro de jornalismo de investigação de José Pedro Castanheira e António Valdemar. Ontem, assisti ao ensaio geral. O espectáculo foi ovacionado pelo público. Sendo muito mais dado ao cinema do que ao teatro, não me sinto qualificado para fazer grandes considerações. Mas creio que a peça mostra três méritos que não costumo associar ao teatro que se faz em Portugal: uma história forte com ressonâncias na memória afectiva do público; condensação; um bom naipe de actores.
Estreia hoje, na sala Garrett do teatro D. Maria II, A Filha Rebelde, uma peça de teatro adaptada de um livro de jornalismo de investigação de José Pedro Castanheira e António Valdemar. Ontem, assisti ao ensaio geral. O espectáculo foi ovacionado pelo público. Sendo muito mais dado ao cinema do que ao teatro, não me sinto qualificado para fazer grandes considerações. Mas creio que a peça mostra três méritos que não costumo associar ao teatro que se faz em Portugal: uma história forte com ressonâncias na memória afectiva do público; condensação; um bom naipe de actores.A história é a de Annie Silva Pais, filha do último director da PIDE, casada com um diplomata suíço colocado em Cuba, que deixa para viver a Revolução de Che Guevara. Durante o 25 de Abril vem a Portugal envolver-se no período revolucionário e visita o pai, que está preso. A peça desenvolve-se ao longo de várias décadas e dois continentes, durando apenas hora e meia. É de aplaudir. Os actores são bons e o conjunto de interpretações equilibrado: Ana Brandão vai bem no papel de Annie; a curta aparição de Salazar é credível; Vítor Norte, como Silva Pais, mostra, uma vez mais, que é um actor consistente; Lídia Franco, de quem não costumo gostar, parece que nasceu para ser mulher do director da PIDE.
Um único aspecto me incomodou: a visão puramente idealista, quase onírica, da revolução cubana, omitindo as suas razões e efeitos perversos. Quem não conhecesse nada da História recente, seria levado a pensar que a «revolução dos cravos» foi mais repressiva do que a cubana, pois levou a uma prisão política – a de Silva Pais – enquanto as perseguições políticas de Cuba não são mencionadas. Um retrato mais realista da situação política de Cuba não esvaziaria de interesse a personagem de Annie, podendo até dar-lhe mais espessura dramática, senão trágica.
Espero que a Filha Rebelde tenha seguidoras no teatro português.
quarta-feira, março 14, 2007
Almanaque do Povo
Acho que já falei do blogue do Pierre Assouline: mas quero falar outra vez. O République des Livres é bem interessante.
Falar de Blogues: recomeça no dia 15 deste mês, pelas 19:00h, o ciclo homónimo promovido por José Carlos Abrantes e pela Livraria Almedina, ali ao Saldanha. Daniel Melo, Pedro Mexia, José Nunes e Leonel Vicente são os palestrantes.
[almanaque, daqui ]
Etiquetas: Almanaque
A ditadura é capaz de não ser para hoje
Anda muita gente preocupada nos blogues e jornais com a coordenação dos serviços policiais e dos serviços de informações, e ainda com o actual esforço de concentração de cartões e cruzamento de informações entre serviços públicos. Graças ao trabalho de recolha do Paulo Gorjão a opinião publicada sobre o assunto está (em grande parte) aqui.
Por estas bandas populares, o amigo Fernando Martins, embora não esteja (ainda?) tão dado a elogios do primeiro-ministro como o aniversariante Cavaco Silva, resistiu à onda.
Mas eu direi ainda mais. Faço a pergunta ao contrário dele: Há algum país europeu de boas tradições democráticas (moderno, claro) onde não exista um sistema de coordenação das polícias como o que agora se desenha em Portugal? Ou até ainda mais estreito? Ou até com fusão (recente) de polícias?
O problema é o sistema de coordenação das polícias estar sob a autoridade do primeiro-ministro? Mas a polícia havia de estar sob a autoridade última de quem, num país democrático? (Note-se que relativamente à coordenação dos serviços secretos isso já sucede há mais de uma década). Aliás, em relação às acções policiais já há a fiscalização dos tribunais, e, no caso da Polícia Judicária, ainda a responsabilidades de direcção do Ministério Público.
A coordenação facilita o autoritarismo, o abuso de poder? Parece-me que, ou não altera nada, ou pelo contrário até dificulta. Se coordenação significar reuniões periódicas das chefias policiais, como deverá ser, então seria até mais fácil pedir favores a forças fraccionadas do que a forças coordenadas, a uma pessoa que não presta contas do que anda a fazer a outros, do que a vários que se reúnem para coordenar esforços.
Se tenho críticas a fazer a esta reforma é ela não ir mais longe já: não avançar com a fusão da GNR e da PSP. Isso não impediria, desde que feito com esse cuidado, preservar diferentes especializações. Mas admito que é tarefa difícil e pelo menos dá-se um passo no sentido certo. E nem sequer se avança para um secretariado de único de coordenação entre serviços secretos e serviços policiais. Mas imagino o que se diria se o governo apontasse nesse sentido.
Não existe uma ameaça eminente que justifique este sistema? Será que em Portugal ainda há quem pense que uma democracia (moderna, claro) só pode ter polícias desde que sejam ineficientes?
Há, ainda, a perigosa concentração de cartões e cruzamento de dados nos serviços público. Mas não anda há anos toda a gente a queixar-se da maçada que é perder horas e dias, indo de uma burocracia pública para outra para se tratar de um mesmo assunto? Alguém acha realmente que são precisos tantos cartões a encher a carteira? No entanto, quando o governo toma medidas para responder às queixas, vem aí a ditadura, vem aí, até, o Pina Manique! Não haverá aqui uma certa contradição?
E por falar em ditaduras e em analogias históricas: alguém me explica como é que Salazar foi capaz de montar um regime autoritário durante 40 anos sem precisar de nada disto?
O problema de se fazer reformas em Portugal é que há sempre quem diga: mas isto também é indispensável e não está a ser tratado, portanto... não se faz nada. Mais fiscalização do parlamento? Completamente a favor. Deviam-se generalizar as audições parlamentares de estes e de outros altos funcionários (ou, por exemplo, dos nomeados a juízes do tribunal constitutional). Mais garantias de segurança dos dados? Quem pode estar contra? Mas isso não é argumento para atacar reformas que resultam em evidentes ganhos de eficiência.
Mas eu direi ainda mais. Faço a pergunta ao contrário dele: Há algum país europeu de boas tradições democráticas (moderno, claro) onde não exista um sistema de coordenação das polícias como o que agora se desenha em Portugal? Ou até ainda mais estreito? Ou até com fusão (recente) de polícias?
O problema é o sistema de coordenação das polícias estar sob a autoridade do primeiro-ministro? Mas a polícia havia de estar sob a autoridade última de quem, num país democrático? (Note-se que relativamente à coordenação dos serviços secretos isso já sucede há mais de uma década). Aliás, em relação às acções policiais já há a fiscalização dos tribunais, e, no caso da Polícia Judicária, ainda a responsabilidades de direcção do Ministério Público.
A coordenação facilita o autoritarismo, o abuso de poder? Parece-me que, ou não altera nada, ou pelo contrário até dificulta. Se coordenação significar reuniões periódicas das chefias policiais, como deverá ser, então seria até mais fácil pedir favores a forças fraccionadas do que a forças coordenadas, a uma pessoa que não presta contas do que anda a fazer a outros, do que a vários que se reúnem para coordenar esforços.
Se tenho críticas a fazer a esta reforma é ela não ir mais longe já: não avançar com a fusão da GNR e da PSP. Isso não impediria, desde que feito com esse cuidado, preservar diferentes especializações. Mas admito que é tarefa difícil e pelo menos dá-se um passo no sentido certo. E nem sequer se avança para um secretariado de único de coordenação entre serviços secretos e serviços policiais. Mas imagino o que se diria se o governo apontasse nesse sentido.
Não existe uma ameaça eminente que justifique este sistema? Será que em Portugal ainda há quem pense que uma democracia (moderna, claro) só pode ter polícias desde que sejam ineficientes?
Há, ainda, a perigosa concentração de cartões e cruzamento de dados nos serviços público. Mas não anda há anos toda a gente a queixar-se da maçada que é perder horas e dias, indo de uma burocracia pública para outra para se tratar de um mesmo assunto? Alguém acha realmente que são precisos tantos cartões a encher a carteira? No entanto, quando o governo toma medidas para responder às queixas, vem aí a ditadura, vem aí, até, o Pina Manique! Não haverá aqui uma certa contradição?
E por falar em ditaduras e em analogias históricas: alguém me explica como é que Salazar foi capaz de montar um regime autoritário durante 40 anos sem precisar de nada disto?
O problema de se fazer reformas em Portugal é que há sempre quem diga: mas isto também é indispensável e não está a ser tratado, portanto... não se faz nada. Mais fiscalização do parlamento? Completamente a favor. Deviam-se generalizar as audições parlamentares de estes e de outros altos funcionários (ou, por exemplo, dos nomeados a juízes do tribunal constitutional). Mais garantias de segurança dos dados? Quem pode estar contra? Mas isso não é argumento para atacar reformas que resultam em evidentes ganhos de eficiência.
segunda-feira, março 12, 2007
Esquerda e Direita em Prospectiva
Vale a pena ler esta exaustiva recolha pela Prospect de opiniões de cem intelectuais destacados sobre o futuro da esquerda e da direita. A grande divisão parece ser entre os que pensam que a a fractura política do futura será entre cosmopolitas e localistas e os que acreditam que a metáfora espacial - muito em torno do papel do Estado e das preocupações sociais - continuará a fazer sentido. Enfim, há algo para toda a gente. Aliás, a revista é privada, mas o dossier é público e gratuito.
Verdade ou impostura?
De qualquer modo, esta histeria foi ontem legitimada e multiplicada por um artigo de Vasco Pulido Valente no Público e, segundo o qual, pasme-se, nunca em trinta anos de democracia terá um primeiro-ministro português despachado directa e regularmente com um chefe de polícia. A esta acusação gravíssima eu responderia com uma pergunta. Será que em nenhum país democrático por esse mundo fora haverá um chefe de Governo ou um chefe do Estado a despachar numa base regular e directa com o chefe das suas polícias? E mesmo que tal não aconteça, será que a instituição do despacho nos trará inevitavelmente um estado policial e, depois, o autoritarismo? Tudo, portanto, como se o exercício do poder em Portugal não fosse limitado pela lei, pela acção dos cidadãos e dos mais variados órgãos de soberania, ou pelos diversificados poderes, externos e internos, que todos os dias fazem sentir o seu peso.
Mas, de qualquer forma, nada disto é relevante. Sócrates, de certeza, não pretende nada daquilo de que o acusam. E porquê? Por uma razão muito simples. O seu legítimo projecto de poder pessoal não passa, nem nunca passou, pela subversão política e institucional da democracia portuguesa e, portanto, pela instauração de um (proto-)estado policial que o sirva a ele, ao seu Governo e ao seu partido. Estamos assim diante da exibição pública de uma pequena intriga que, naturalmente, Sócrates e o Governo se encarregarão de desfazer e que redundará em mais uma vitória política.
Mas não é só isto que importa. Por causa do ruído cada vez maior que ultimamente se ouve a propósito do “autoritarismo” de José Sócrates, talvez valha a pena recordar uma frase lapidar que François-René de Chateaubriand escreveu um dia nas suas memórias naquele que era um esforço derradeiro para explicar e perceber Napoleão: “A vida de Bonaparte era uma verdade incontestável que a impostura se encarregou de escrever.”
Adenda: Uma vez que os textos não condenatórios da criação para breve de um "Estado policial português", e publicados blogosfera portuguesa, praticamente não são citados, deixo aqui a ligação para um deles. Foi publicado há dias na Câmara Corporativa mas só há pouco acabei de o ler (0,40 h. de 15 de Março).
domingo, março 11, 2007
Façamos sinceros votos
Madrid, 10 de Março de 2007
P.S.: Não garanto que a foto acima seja da manifestação de ontem.
sábado, março 10, 2007
Hugo Chávez, em estilo Le Pen…
P.S.: Notei, com um sorriso no lábios, o prazer quase único de que fruíram hoje jornalistas SIC Notícias, Antena 1 e TSF ao reproduzirem e comentarem serenamente nos vários serviços noticiosas daquelas estações as ofensas pessoais proferidas na Argentina por Hugo Chávez contra Bush. Aguardo igual ou superior condescendência e serenidade por parte dos jornalistas daquelas casas cada vez que Alberto João Jardim pronuncie, na região autónoma da Madeira ou por esse mundo de Deus Nosso Senhor, apenas metade (no conteúdo e nos números) dos impropérios quotidianamente proferidos pelo presidente eleito da Venezuela contra George W. Bush. Dois pesos e duas medidas jornalísticas? Nem pensar! Apenas seriedade e imparcialidade sui generis.
sexta-feira, março 09, 2007
Manual Único Europeu
Sou contra por ser único, não por ser europeu. Aliás, a haver um manual único até seria melhor que fosse europeu para evitar paroquialismos nacionalistas acríticos.
Mas seria útil trabalhar na discussão conjunta de currículos, precisamente para tornar mais difíceis essas derivas nacionalistas. E apostar na criação materais comuns sobre a história da Europa que poderiam estar disponíveis on-line e ser usados como os professores entendessem.
PS - Parece que se prepara a fusão da história e da geografia pelo menos durante parte do secundário (ou lá como é que isso agora se chama.) Eu julgava que o país estava muito preocupado com a falta de conhecimento histórico. É que se isso for verdade, não estou a ver como é que lidará com essa chaga, quando parte do tempo lectivo actualmente disponível, e pelo vistos insuficiente, passará a ser ocupado por outra disciplina completamente diferente.
quinta-feira, março 08, 2007
Isto não é só pedir uma assinatura para uma petição, e pronto.
[Foto: Paulo Cunha/Lusa, via Expresso]
Clássicos para o povo: Aristóteles
 «(...) os que são copiosamente bafejados por dons que a fortuna lhes reservou, tais como força, riqueza, amigos, e outros dons dessa índole, não só não querem, como não sabem o que é obedecer; de facto tal procedimento advém-lhes já de casa, desde a infância, devido ao fausto que aí viveram, e nem sequer nas escolas adquirem o hábito de obedecer; já aqueles que vivem numa excessiva penúria encontram-se rebaixados. Assim sendo, se estes não sabem o que significa propriamente mandar, mas apenas comportar-se como escravos sujeitos à autoridade, aqueles, por seu turno, não sabem o que é obedecer, mas somente exercer domínio como senhores despóticos. É, pois, em virtude de uma situação assim que se forma uma cidade de servos e de senhores, não uma cidade de homens livres, uma cidade em que uns têm inveja e outros revelam desprezo, sentimentos, de resto, muito distantes do que deve ser a amizade e a comunidade política, uma vez que a comunidade implica amizade; com efeito, os inimigos não querem partilhar entre si um só caminho que seja.
«(...) os que são copiosamente bafejados por dons que a fortuna lhes reservou, tais como força, riqueza, amigos, e outros dons dessa índole, não só não querem, como não sabem o que é obedecer; de facto tal procedimento advém-lhes já de casa, desde a infância, devido ao fausto que aí viveram, e nem sequer nas escolas adquirem o hábito de obedecer; já aqueles que vivem numa excessiva penúria encontram-se rebaixados. Assim sendo, se estes não sabem o que significa propriamente mandar, mas apenas comportar-se como escravos sujeitos à autoridade, aqueles, por seu turno, não sabem o que é obedecer, mas somente exercer domínio como senhores despóticos. É, pois, em virtude de uma situação assim que se forma uma cidade de servos e de senhores, não uma cidade de homens livres, uma cidade em que uns têm inveja e outros revelam desprezo, sentimentos, de resto, muito distantes do que deve ser a amizade e a comunidade política, uma vez que a comunidade implica amizade; com efeito, os inimigos não querem partilhar entre si um só caminho que seja.A cidade quer-se o mais possível composta de elementos semelhantes e iguais. Ora essa condição só se encontra precisamente na classe média. Segue-se, pois, que a cidade governada com base nestes elementos médios (que, em nosso entender, constituem por natureza uma cidade) será necessariamente a mais excelente de todas.
Além do mais, a classe média é a massa mais estável nas cidades: de facto não cobiça os bens alheios, tal como o fazem os mais desfavorecidos, nem as outras classes desejam aquilo que pertence à classe média, tal como os pobres desejam o que é dos ricos. É, pois, em virtude deste não cobiçar nem ser alvo de cobiça, que a classe média vive sem sobressaltos. Por isso mesmo é que Focíclides sentenciou com razão: “muitas coisas são melhores para os que estão no meio; na cidade, desejo ser do meio.”
Resulta, portanto, claro que a melhor comunidade política é a que provém das classes médias, além de que são bem governadas as cidades onde essa classe não só se apresenta mais numerosa, mas também, senão mais poderosa que as outras duas juntas, pelo menos mais poderosa que uma delas, dado que a sua mistura, além de servir de contrapeso às outras forças políticas, impede o aparecimento de extremos antagónicos.
É, pois, muito vantajoso que os titulares de cargos públicos possuam uma riqueza mediana e suficiente; as cidades em que uns possuem em demasia e outros nada possuem, propiciam o estabelecimento de uma democracia extrema ou de uma oligarquia pura, ou mesmo de uma tirania, nos casos em que, quer uma, quer outra, se excedam. Assim, se é verdade que uma tirania nasce da democracia mais radical ou da oligarquia, também é verdade que tem muito menos possibilidades de se impor entre as classes médias, ou em classes muito afins. (...)
As democracias são mais estáveis e duradouras do que as oligarquias, também por influência da classe média. Na verdade, a classe média não só se apresenta mais numerosa como detém mais honrarias nas democracias do que nas oligarquias. Quando a classe média não existe e os pobres se tornam muito numerosos, os afazeres correm mal e o regime dissolve-se rapidamente.»
ARISTÓTELES, Política, Lisboa, Vega, 1998, pp. 313 e 315
Historiadores e Grandes Portugueses
Um grande bem haja.
quarta-feira, março 07, 2007
Teatro Chicago
Foto e informação adicional em Michael's Architecture Page.
O momento Chávez do nosso Ministério da Justiça
terça-feira, março 06, 2007
Suicídio
A derrota póstuma de Salazar
 Ao contrário de outros ditadores, Salazar escapou a um julgamento daqueles que governou durante quatro décadas. A catarse da ditadura foi póstuma, por assim escrever, e a votação dos «Grandes Portugueses» tem um estranho sabor a póstuma reavaliação. Daí as paixões que o caso suscita.
Ao contrário de outros ditadores, Salazar escapou a um julgamento daqueles que governou durante quatro décadas. A catarse da ditadura foi póstuma, por assim escrever, e a votação dos «Grandes Portugueses» tem um estranho sabor a póstuma reavaliação. Daí as paixões que o caso suscita.Para mim, que não vivi sob o regime de Salazar, o ditador perde de qualquer modo: se perder, perde; se ganhar, fica provada a sua estupidez. Sejamos claros: se a vitória no concurso televisivo vale para provar a tese de que Salazar teve o apoio da população portuguesa, então o seu regime foi um disparate de fio a pavio. É caso para dizer: «It´s the elections, stupid». Bastava-lhe fazer eleições e até lhe convinha alargar o sufrágio. Para quê a censura, a PIDE, a proibição dos partidos políticos e da liberdade de associação?
Se vencer, Salazar também sofre uma clamorosa derrota, numa perspectiva mais subtil: toda a sua política se baseou numa concepção pessimista do povo português. Os portugueses, ao contrário dos britânicos que podiam viver em democracia, possuíam todos os vícios. Daí a necessidade de disciplina, da orientação de um homem superior que só podia governar autoritariamente, sem satisfazer os desejos do povo. Se Salazar ganhar a votação deste povo que «não muda», de duas uma: ou ele estava enganado acerca do povo, ou estava enganado acerca de si mesmo. O patareco.
Os 80 anos de Gabo
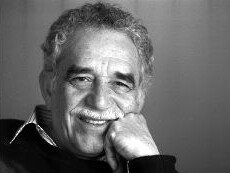 Gabriel García Márquez faz oitenta anos. É um dos grandes escritores da América Latina e do nosso tempo. Dos muitos romances que escreveu, retive Cien años de soledade, lido no original como vale a pena ler: o que se perde, por conhecimento insuficiente de castelhano e regionalismos, ganha-se em musicalidade. Um sinal de que não estamos apenas perante uma ficção, mas de um texto fulgurante, como um poema em prosa.
Gabriel García Márquez faz oitenta anos. É um dos grandes escritores da América Latina e do nosso tempo. Dos muitos romances que escreveu, retive Cien años de soledade, lido no original como vale a pena ler: o que se perde, por conhecimento insuficiente de castelhano e regionalismos, ganha-se em musicalidade. Um sinal de que não estamos apenas perante uma ficção, mas de um texto fulgurante, como um poema em prosa.A penúltima notícia que soube dele fez-me sorrir e diz respeito à Internet. Quando não pôde deixar de comentar um texto que circulava pelas listas de email com o seu nome e aproveitando a circunstância do escritor padecer de uma doença grave, limitou-se a dizer: «preferia morrer a escrever um texto assim.»
Encómios.
Fantasmas e excitações
Mas a obsessão de muitos portugueses pelo fascismo normalmente interessa-me. É que me parece que para aqueles que sustentam ter ele existido em Portugal, o seu eclipsar dos livros de história e do discurso político e jornalístico significa que não só a pátria fica menos europeia e moderna, como parecem ser fortemente postos em causa o sentido de muitas vidas que antes e depois de Abril se têm definido em função daquilo que foi o fascismo português… e da luta contra o mesmo. Por outro lado, o fascismo e necessidade da sua existência é uma clara questão de legitimidade política. Hoje, como na segunda metade da década de 1970, parece que só tem direito à democracia quem tem experiência de luta antifascista ou genes antifascistas recebidos por via familiar ou por militância política.
Mas a questão do fascismo e da permanente evocação da sua existência em Portugal não se resume à caracterização daquilo que terá sido o “tempo da outra senhora.” Depois de Abril de 1974, a “Aliança Democrática” do Dr. Sá Carneiro, do Dr. Freitas do Amaral e do Arquitecto Ribeiro Teles foi-o indiscutivelmente para muita esquerda portuguesa quando era eu um rapaz com 13 ou 14 anos. Cavaco também foi fascista, assim como o PSD que conquistou duas maiorias absolutas em eleições livres e justas nos longínquos anos de 1987 e 1991. Recordo-me, por exemplo, de uma retórica absurda sobre o tema utilizada em discurso parlamentar pelo Dr. Almeida Santos. Alberto João Jardim é “fascista”, e já lhe chamaram o “gauleiter” da Madeira. Há dois Governos atrás, Manuel Ferreira Leite era um, ou o, “Salazar de saias.” Hoje o fascismo, ou o “neo-salazarismo”, foi novamente ressuscitado. Porquê? Aparentemente por causa dos novos poderes concedidos à EMEL e aos seus fiscais, dos resultados da primeira fase no concurso os “grandes portugueses” e da votação para a escolha do “pior português de sempre.” Finalmente, também desabrochou por causa do desejo manifestado por boa parte do povo de Santa Comba Dão e pelo presidente da respectiva Câmara Municipal em construir uma casa museu e um arquivo em torno da figura do defunto ditador nascido naquelas terras em Abril de 1889 e lá enterrado, em campa rasa, em Julho de 1970.
A histeria antifascista chega a tal ponto que, no passado Sábado, regressado a Lisboa, e sintonizando a TSF, ao ouvir uma notícia da reunião de um grupo de antifascistas naquele concelho do distrito de Viseu pensei que na madrugada teria fracassado em Portugal uma tentativa séria de instauração do fascismo em Portugal, ficando sem perceber se através de uma marcha sobre Lisboa, se de um golpe militar.
Ninguém mais do que eu respeita as vítimas do salazarismo. Gente que morreu ou mal sobreviveu durante anos ou décadas, no país e no estrangeiro, para que Salazar, e depois Marcello Caetano, deixassem de ser poder e, com isso, pudesse eventualmente ser instaurado em Portugal um sistema político de liberdade e democrático. No entanto, é óbvio que toda a agitação existente em torno do advento do neo-salazarismo é exagerada. Desde logo porque nem concursos, nem casas museu, nem os fatos às riscas do Dr. Paulo Portas são suficientes para instaurar o fascismo ou o neo-salazarismo. Mas sobretudo porque o “neo-salazarismo” – se existir – não está identificado. Qual é a ideologia? O que é que consta no programa? É um movimento, um partido? Vários movimentos e vários partidos? Qual é a sua “base social de apoio”? Eu que, como muita gente, assistiu à forma como a extrema esquerda se comportou há dias em Copenhague por causa da evacuação de um imóvel ocupado ilegalmente, numa demonstração de violência extrema que, felizmente, não é permitida aos neo-salazaristas em Portugal, não deixo de me interrogar sobre as razões de tamanha excitação. Sobretudo quando ela vem de gente inteligente, racional e politicamente madura e moderada. Talvez alguém saiba responder.
Mas também não vale a pena perder muito tempo. Afinal há por aí muito mais questões políticas, sociais ou outras que merecem a nossa atenção. Seria curioso, aliás, que o putativo neo-salazarismo viesse agora contribuir para branquear não só a desastrosa governação do nosso querido Governo da República, como o triste estado em que se encontra a sua oposição à direita, por mais que eu seja um apreciador prudente do Dr. Marques Mendes. E finalmente, para dar um módico de força, de coesão e de projecção mediática à esquerda do PS, ao BE e ao PCP. Afinal o aborto liberalizou-se e o casamento de homossexuais não se encontra, ainda, na agenda política à esquerda do eng. José Sócrates.
Adenda: Já que estou com a mão massa, recomendo vivamente este texto do Pedro Picoito no "Cachimbo de Magritte". Isto não significa que Pedro necessite de publicidade.
segunda-feira, março 05, 2007
Uma semana fora
Visto isto, aquilo que mais impressiona é o elevadíssimo grau de politização e de radicalismo que tem tomado conta da vida política espanhola e ao qual as Universidades não têm ficado imunes, sobretudo em cursos e escolas como as de Direito, Ciência Política, História e Linguística. Em si mesmo o radicalismo e a politização são-me relativamente indiferentes, embora a curto-médio prazo produzam uma descida na qualidade do ensino e da investigação. No entanto, radicalismo e politização preocupam-me quando se transformam em "perseguição" a todos aqueles que apreciam e praticam a moderação e um perfil baixo na crescente politização do sistema de ensino e de investigação científica. É neste ponto que o sistema de ensino superior na Galiza e em grande parte de Espanha se encontram. Ou seja, e em grande medida, no estado em que vegetavam as Universidades portuguesas nas décadas de 1930, 1960 e 1970. A margem de liberdade é escassa, e cada vez mais, sendo claro que quem ilude, por inteligência e bom senso, o padrão político-ideológico dominante numa determinada escola ou departamento se arrisca, na melhor das hipóteses, a desempenhar o papel de refugiado político em Espanha ou no estrangeiro (algo que há uns anos acontecia apenas a docentes de Universidades vascas). Aguardemos desenvolvimentos, mas estejamos atentos e preocupados. Até por que o radicalismo e a intolerância na vida política espanhola, à esquerda e à direita, assumem nesta altura proporções que se arriscam a deixar de poder ser controladas.
sexta-feira, março 02, 2007
Almanaque do Povo
Ni iconos, ni dibujos: o Orsai, weblog do argentino Hernán Casciari, escritor e jornalista, fez três anos. Que los cumpla feliz!
E por cá: o Insurgente também festejou, no caso, dois anos, com novas contratações e tudo. Parabéns!
[Georges Damour, aqui]
Etiquetas: Almanaque